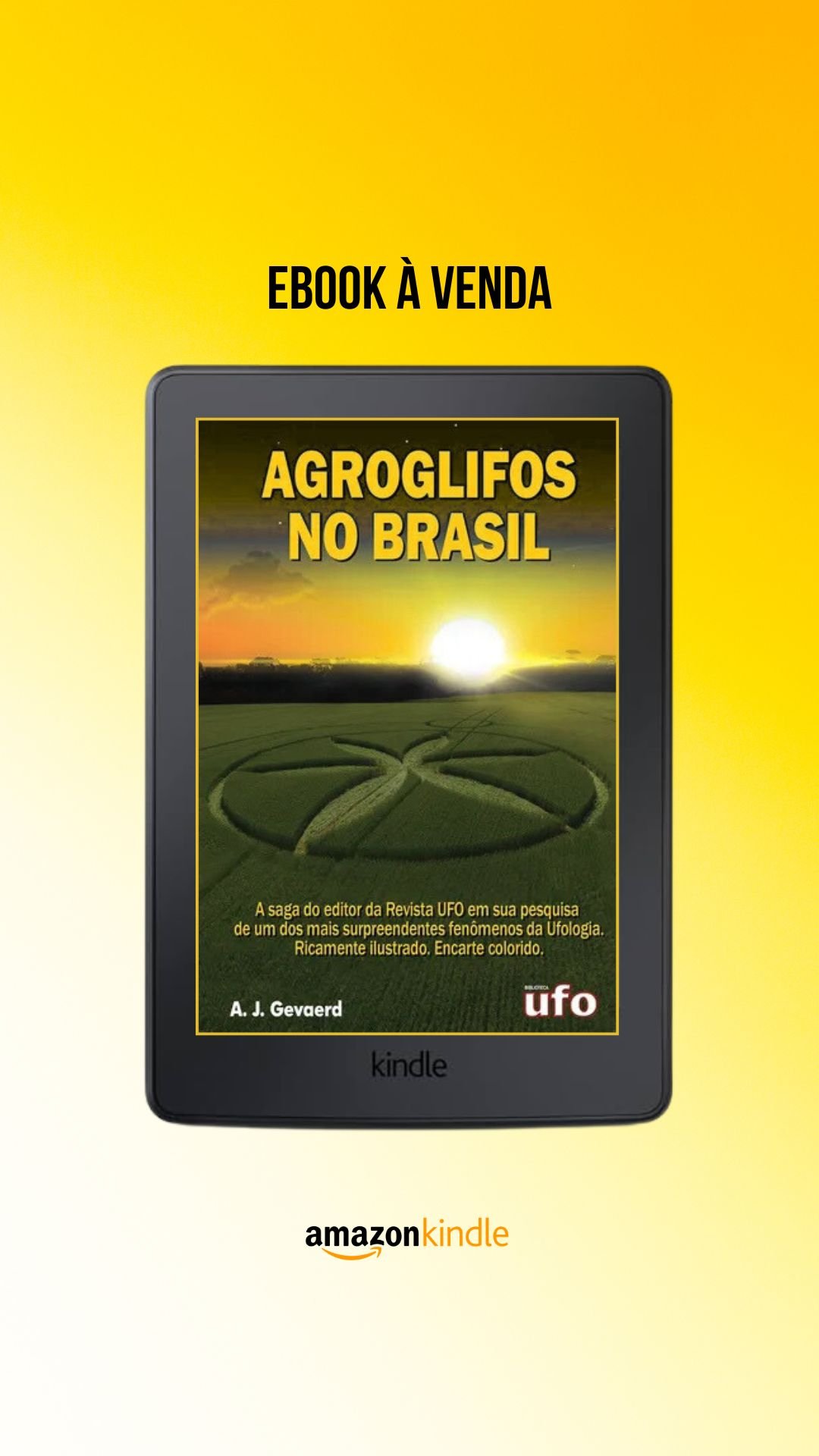Uma senhora moderna e corajosa, independente e generosa, decidida e destemida. Esses são apenas alguns adjetivos que eu usaria para definir a médica psiquiatra Wellaide Cecim Carvalho, que tive o privilégio de conhecer e o prazer de entrevistar em Belém, em 15 de agosto. Mas talvez a introdução não seja muito apropriada por causa de apenas uma palavra: senhora. Wellaide, apesar de ter um invejável currículo, é uma pessoa de espírito absolutamente jovem. Começou a faculdade de medicina aos 16 anos e a completou aos 21, entre os primeiros colocados. Teve inúmeras funções em sua vida profissional e foi nada menos do que secretária municipal de Saúde em Belém e subsecretária estadual de Saúde no Pará.
Wellaide acumula ainda muitos outros títulos e hoje trabalha simultaneamente em diversas instituições médicas da capital paraense e noutras cidades. Vive num ritmo frenético – tem cinco telefones celulares – e reserva pouquíssimo tempo para si e para o lazer. Ainda assim, não descuida de suas funções familiares, nem de sua paixão, automóveis velozes. “Meu sonho de adolescente era ser engenheira mecânica”, disse ao desembarcar de um veículo japonês conversível e possante, na porta do hotel em que nos encontramos.
No meio de tanta correria, ela achou tempo – logo ao chegar de seu trabalho de fim semana em Paragominas (mais de 300 km de Belém) – para conceder uma longa entrevista à equipe do canal The History Channel, dos Estados Unidos. E na mesma noite, atendeu a este editor por outras cinco horas, descrevendo detalhadamente suas fantásticas experiências na Ilha de Colares, quando lá serviu ao sair da faculdade de medicina, como médica-chefe da Unidade Sanitária da localidade.
Era seu primeiro emprego e a doutora Wellaide encontrou pela frente um cenário indescritível, jamais imaginado por ela ou mesmo por muitos outros profissionais de maior idade. Ao desembarcar na ilha, os fenômenos que ficaram conhecidos como chupa-chupa passaram a acontecer – e não pararam mais. Ela atendeu a nada menos do que 80 vítimas dos ataques, vivia num pavor cada dia maior de ser também atacada e acabou, felizmente sem violência, tendo várias experiências pessoais e muito próximas com os agressores. Sua entrevista, concedida pela primeira vez à uma publicação ufológica, é um novo marco da Ufologia Brasileira, comparável à concedida em 1997 pelo coronel Uyrangê Hollanda, e mostrará duas coisas. Primeiro, a gravidade dos fatos que ocorreram no Pará, que o Governo luta até hoje para esconder. E segundo, a imensa generosidade de uma médica recém formada em ajudar a população a suportar seu sofrimento.
No começo, eu achava que as pessoas estavam tendo delírios e ataques de autoflagelação. Ah, como eu estava errada…
Quem é Wellaide Cecim Carvalho, a mulher que espantou o Brasil ao declarar ter sofrido pressão dos militares para negar os ataques do chupa-chupa na Amazônia? Sou amazonense, nascida na cidade de Nova Olinda do Norte e fui para a cidade de Santarém com 12 anos. Estudei em colégios norte-americanos, apesar de até hoje não falar uma palavra em inglês, e cheguei à capital do Pará muito jovem, direto para fazer o vestibular de medicina, pois no Amazonas não existia faculdade dessa área. Passei aos 16 anos na Universidade Federal do Pará (UFPA), quando ainda não tinha título de eleitor, nem carteira de identidade. Fui aprovada em oitavo lugar e descobri que não podia fazer a matrícula, porque não tinha nenhum documento, e fui mandada de volta para casa.
Aos 16 anos?! E o que você fez ao saber que não podia fazer sua matrícula na universidade? Bem, quando cheguei em casa e contei aos meus familiares o que havia acontecido, meu pai foi conversar com o coordenador do curso e saber porque eu não poderia estudar, já que tinha sido aprovada, e em oitavo lugar. Ele falou que era pelo fato de eu ser menor de idade e não ter a documentação necessária. Não foi fácil, mas com a ajuda de um juiz de Belém, conseguimos realizar a matrícula e eu completei o curso sem repetir um semestre.
Como foi seu contato com o curso de medicina? Era mesmo o que você queria? Eu tinha muita vontade de ser engenheira mecânica, pois gosto muito de automóvel. Mas, por orientação de meu pai, optei pela medicina, me apaixonando pela psiquiatria logo no terceiro ano do curso. Eu me formei em 1976, faltando um mês e meio para completar 21 anos. Logo depois da colação de grau, eu já tinha sido nomeada diretora da Unidade Sanitária de Colares, porque naquela época a Secretaria Estadual de Saúde sempre procurava os 10 primeiros alunos do curso de medicina para ocuparem cargos de responsabilidade no setor. Eu estava nesse grupo e ocupava o primeiro lugar entre as mulheres. Fui então nomeada responsável pela unidade em 10 de dezembro de 1976, dois dias depois da minha formatura.

Qual foi sua primeira impressão ao tomar conhecimento de como era a Ilha de Colares? Cheguei lá de uma maneira meio trágica, pois a maré estava baixa e a balsa não podia atravessar o rio que separa a ilha do continente [Rio Guajará-Mirim]. Eu estava acompanhada de um amigo da família, natural do local, num fusca verde que conservei ainda por muito tempo e no qual tive uma experiência terrível. Não conseguindo atravessar o rio, tivemos que utilizar uma canoa. Perto de chegar ao outro lado, bem na hora de descer, a canoa virou e eu quase me afoguei, porque não sabia nadar. Quem me ajudou foi esse meu amigo. Ao chegarmos perto da orla da ilha, percebemos que era um manguezal e ficamos atolados na lama até acima do joelho. Isso fez com que eu tivesse impinge, que durou cerca de seis meses. Então, eu já cheguei naufragando ao meu local de trabalho…
Qual foi a especialidade que você teve que exercer na Unidade Sanitária de Colares? Clínica geral ou psiquiatria? Eu era médica sanitarista, porque a saúde pública é a única especialidade que engloba todos os programas de atenção e assistência à saúde, como pediatria, clínica geral, médica, ginecologia, dermatologia e pneumologia. Esse foi o meu primeiro emprego. Antes dele, nunca sequer tinha ouvido falar de Colares. Não conhecia nada daquela região.
Como até hoje a Ilha de Colares é uma localidade muito pequena, gostaria de saber como era naquela época? A ilha toda tinha aproximadamente 6 mil habitantes e na sede do município existiam 2 mil pessoas [Há números controversos sobre a quantidade de habitantes de Colares na época, chegando a 12 mil pessoas. Não há dados oficiais do Governo do Pará quanto a isso, em 1977]. Só que da beirada da ilha até a Vila de Colares, no lado oposto, havia uma estrada muito precária de chão batido. E já que meu fusca verde não conseguiu atravessar o rio, tivemos que pegar um ônibus lá, quando fui apresentada ao prefeito na época, Alfredo Ribeiro Bastos. Ele me levou para conhecer a unidade sanitária, que era um estabelecimento bem básico. Em sua composição técnica tinha uma enfermeira de nível superior, uma odontóloga e 12 técnicos em enfermagem. Eu estava acumulando as funções de médica e diretora da instituição. A vila era muito pequena e tinha luz elétrica proveniente de óleo diesel, que era mantida apenas das 18h00 às 21h00. A partir desse horário, tínhamos que andar com lamparina, vela ou lampião.
Xilocaína aliviava um pouco a dor das vítimas, mas por pouco tempo. Dipirona injetável não fazia qualquer efeito
Deveria ser um desafio para você. Quais eram os casos que você via com mais freqüência no posto de saúde? Geralmente, eram acidentes com arraias, muito comuns na ilha. Por esse motivo, me tornei especialista nesses animais e seus ataques. As praias em torno de Colares são infestadas por esses bichos, causando muitos ferimentos às pessoas. Atendi gente que tinha sido atingida até 80 vezes por eles.
Além dos acidentes com as arraias havia outros problemas de saúde na ilha? Sim, tínhamos também muita poliparasitose, causada pela ingestão de peixes crus, e alguns casos de desnutrição, talvez pelo fato das pessoas não saberem se alimentar de maneira correta. Quase toda a alimentação era oriunda do mar ou dos rios da região, e as pessoas comiam muita farinha de mandioca. Mas, apesar disso, não havia casos de anemia. Outras doenças que tínhamos eram as dermatológicas, como escabiose, conhecida popularmente como sarna, impinges e reumatismo. Muitas pessoas em Colares apresentavam problemas de enxaqueca e pressão arterial elevada. Enfim, o quadro clínico dos moradores da ilha era normal e comparável ao de qualquer outra pequena cidade do interior da Amazônia.
E casos de observação e ataques por supostos seres extraterrestres, você atendeu a muitas vítimas? Não, antes da chamada onda chupa-chupa, quase ninguém comentava essas coisas ou procurava auxílio na Unidade Sanitária de Colares. O que ocorria, geralmente à noite, era eu ter que atender mulheres grávidas na zona rural, porque a maioria delas gostava de ter seus filhos em sua própria casa, algumas nas redes, no chão, outras na cadeira. Cansei de fazer isso durante a madrugada. Parece que as crianças só gostam de nascer de noite… Eu saía nesse horário, muitas vezes sozinha, carregando um lampião pela estrada de terra e ninguém nunca me contou história de nada, nem visagem, ataque ou de assombração. Aquele era um povo pacato e extremamente católico, mas sem chegar ao fanatismo. Só que, uns seis meses depois que cheguei à ilha, já em julho ou agosto de 1977, começaram a aparecer os casos.
Como foi seu primeiro caso? Aconteceu no segundo semestre de 1977, no mês de julho. A primeira vítima foi uma moça jovem que vivia na zona rural. Ela foi levada à Unidade Sanitária de Colares extremamente apática e com uma grande fraqueza muscular. Não conseguia falar ou ouvir qualquer coisa, além de não ter reflexo algum. Chegou carregada ao hospital e pensei que tivesse sido acometida por alguma doença, como malária ou hepatite. Perguntei a seus familiares o que havia acontecido e se ela tinha alguma enfermidade pregressa grave, e me falaram que não. Disseram que ela fora atacada por uma “luz” quando estava deitada na rede na varanda de sua casa. Que luz poderia ser aquela, me perguntei.

Como o caso aconteceu e de que maneira a família reagiu ao ver a luz atacar a moça? Todos ficaram apavorados, mas não tiveram tempo sequer de ajudá-la. Isso aconteceu de madrugada. Estava quase amanhecendo, deviam ser 05h00, quando os familiares chegaram à unidade de saúde e os funcionários de plantão foram me chamar em casa. No final da tarde daquele dia em que a recebi, quando voltou a falar, fui perguntar diretamente a ela o que havia acontecido, pois até então só tinha informações da família. Eu achava que os parentes da moça estavam enlouquecidos. Perguntei até se tinham bebido e se haviam feito alguma festa, coisa comum naquela região – mas não perguntei se estavam drogados, porque naquela época não se usava droga como hoje. Todos me disseram que não tinham bebido coisa alguma e nem fizeram qualquer festa. Fiquei espantada. Foi quando a vítima me descreveu o que se passou. Ela disse que estava deitada na rede quando sentiu algo pesado, intensamente pesado, em cima dela. Descreveu que, ao abrir os olhos, viu um feixe de luz grosso que a queimava e ao mesmo tempo a paralisava. Quando tentou pedir socorro aos familiares, que estavam próximos, não conseguiu mais mover a boca e nenhum músculo, nem a mão ou a perna – a única coisa que ela manteve foram os olhos abertos.
Quanto tempo depois os parentes começaram a perceber o que realmente estava acontecendo? Não demorou muito, pois eles estavam dormindo em redes ao redor dessa moça. Descreveram que logo no início do ataque sentiram um calor próximo e intenso. Ela repetiu exatamente o que os familiares falaram. Só que me relatou a sintomatologia do fato e eles, apenas o que haviam visto. Na ocasião, a moça estava completamente consciente, mas não tinha nenhum dos reflexos funcionando. Ela estava inapetente, mas lúcida, tanto que seus olhos se mantinham abertos, mas com poucos movimentos. Uma coisa que eu percebi é que, apesar de ser dia, quando eu a examinava, a pupila dela se apresentava dilatada. Ora, pela lógica médica, ela teria que estar em miose, com a pupila contraída ou diminuída pela presença da luz.
De toda a família, só ela foi atacada? Naquele momento, sim. Mas todos presenciaram o ataque. Viram que um feixe de luz tinha incidido sobre a rede em que ela dormia e, quando acordaram, perceberam que do local emanava um forte calor. Assim que viram os raios em cima da moça, correram apavorados para ver do que se tratava. Ela conseguiu pela última vez gritar, pois depois entrou num estado de catatonia. O feixe incidiu sobre o lado direito de seu tórax, que chamamos na medicina de hemitórax. Quando fui examiná-la, me disseram para não tocar, pois estava queimada. Abri sua roupa e vi que em seu peito havia uma extensa queimadura negra, que ia do pescoço até o diafragma. Ela não tinha febre. Perguntei a quantos dias havia acontecido aquilo e os familiares disseram que fazia pouco tempo, menos de uma hora. Ai eu falei: “Mas não pode! Esse ferimento não pode ter acontecido a tão pouco tempo. Essa é uma queimadura de 4 a 5 dias”. A pele já estava necrosada e isso só acontece no mínimo depois de 96 horas.
Além da queimadura havia pontos ou mesmo perfurações no corpo da vítima? Sim, encontrei no lado direito do pescoço dois orifícios paralelos elevados e de cor avermelhada, semelhante as picadas de insetos. Eram palpáveis e visíveis.
Eu achava que tudo aquilo não passava de uma espécie de delírio, que causava um tipo de automutilação que eu nunca tinha visto
O que você achou daquilo que estava presenciando pela primeira vez? Bem, aquilo me impressionou muito, mas não estava acreditando na história daquela família, principalmente porque nenhuma queimadura podia ter aquela característica em apenas uma hora. Era uma história surreal. No final da tarde, depois de tomar algumas medicações energéticas, a moça começou a melhorar.
Qual o tratamento que você deu a ela? A única coisa que eu fiz durante o dia todo foi tentar aumentar a energia da vítima, para que saísse daquele estado de inapetência. Usei seringas com altas doses de complexo B. Quando voltou a falar, ela disse que o local queimado doía terrivelmente. Verifiquei que não era uma queimadura causada por qualquer substância química, efeito térmico ou radiação, porque os ferimentos provenientes desses elementos são totalmente diferentes, bem avermelhados. Os dela estavam em estado de necrose, ou seja, como se já estivesse em processo de cicatrização. Por curiosidade, passei uma pomada anestésica em cima da queimadura, tipo Xilocaína, para que aliviasse um pouco sua dor, já que Dipirona injetável não fazia qualquer efeito. Com uma pinça cirúrgica, puxei a pele da área queimada, que se separou do corpo inteira. Nunca vi nenhum caso parecido em todos os anos que trabalho como médica…
Você voltou a ver essa moça outras vezes ou acompanhou o caso dela? Sim, assim como todos os casos que atendi. Eu fazia questão de visitar as pessoas, ver como estavam. Foi assim que descobri que, na região do corpo dela atacada por essa luz, não cresciam mais pêlos, mesmo após meses do ocorrido. Mas o problema não estava em todo seu corpo, apenas na região acometida pela alopecia [Perda irreversível dos pêlos]. A luz não apenas queimava, mas destruía o folículo piloso, a raiz do cabelo, na primeira camada da pele, a epiderme. Então, não era simplesmente uma queimadura superficial, mas algo que chegava a atingir camadas profundas da pele. Além disso, as vítimas viviam adoentadas e muitas não conseguiram sequer recuperar sua saúde. Quanto à moça que atendi, pelo que sei, ela não voltou a ser atacada, mas ficou muito deprimida e fraca depois do fato, como se tivesse perdido sua resistência imunológica.
Doutora, quando saía a pele necrosada da queimadura, quanto tempo era necessário para que o local se recuperasse? A pele ficava como que em carne viva. Na realidade, ela já estava em processo cicatricial imediato. Quando você puxava aquilo, ficava vermelho e ardendo durante dias, como se tivesse tirado a casca de uma ferida. As vítimas, por sua própria conta, passavam de tudo nos ferimentos: manteiga, gordura de cacau, sebo de carneiro, além de óleo de copaíba. Algumas substâncias aliviavam um pouco a dor, já que os analgésicos não faziam efeito, nem mesmo Dipirona injetável. Eu usava geralmente Xilocaína para abrandar a dor dos pacientes, que demoravam em média de 15 a 30 dias para estarem curados. Após o fato, a pele ficava com aspecto branco, sem pigmentação.
Por favor, descreva como eram as perfurações que você encontrou nas vítimas? Essas demoravam meses para desaparecer, porque eram não só visíveis mas palpáveis. Mesmo depois de cicatrizada a queimadura, ficavam dois furos na altura do pescoço das pessoas. Eu passava a mão e sentia. Todo mundo via. Na realidade, as perfurações não cicatrizavam porque não eram ferimentos, mas sim orifícios, que depois fechavam e ficavam planos. Daí nada mais se via.
Com que freqüência os casos de pessoas queimadas por essas luzes eram registrados? Inicialmente, recebíamos uma ocorrência a cada três dias. Depois, os casos passaram a ser diários – às vezes, atendíamos de três a quatro pessoas num único dia. Em pouco mais de um mês, já havíamos atendido mais de 40 vítimas. Era uma coisa crescente e as pessoas começaram a abandonar a ilha. O esvaziamento de Colares chegou a 60-70% e a população local ficou reduzida a uns 2 mil habitantes. Na Vila de Colares, no centro da ilha, não restaram mais do que uns 800 habitantes. Muitos fugiram de medo, pois os ataques não mais se concentravam no período noturno, como antes. Eles passaram a acontecer à tarde, também. A situação era tão terrível que ninguém mais pescava ou caçava. Tudo fechou: escolas, fórum, cartório e até a delegacia. A cidade inteira parou.
Tive a idéia de comparar os dados médicos pregressos dos pacientes e descobri anomalias sangüíneas após os ataques
Onde os ataques eram mais freqüentes, na zona rural, dentro da ilha ou no litoral? Geralmente no interior da ilha, mais até do que nas praias. Os ataques começaram a se tornar freqüentes e intensos, especialmente na zona rural e perto das florestas. Havia uma região chamada Santo Antonio das Mucuras, lugar de onde vieram à Unidade Sanitária de Colares muitas pessoas atacadas pela luz vampira. Segundo o depoimento das vítimas, os objetos desciam e ficavam sob a copa das árvores. Talvez fosse essa a maneira deles se camuflarem.
As autoridades não tomaram nenhuma providência diante do que ocorria? A princípio, não, por mais que os moradores começassem a cobrar providências. De qualquer forma, eu ainda continuava achando que aquilo era algum tipo de alucinação visual, delírios coletivos simultâneos e automutilação. Achava que eram as próprias vítimas que de alguma forma faziam aquilo, mas não entendia o por quê. A situação chegava a “dar um nó” na minha cabeça e eu me perguntava freqüentemente como é que alguém podia se mutilar com o mesmo tipo de delírio, com uma mesma alucinação visual e sinestésica. O que mais me intrigava era o fato dos casos serem idênticos, embora ocorressem em lugares muito distantes entre si. A diferença no horário dos ataques era muito pequena e impossibilitava uma ação combinada das pessoas, sem contar que as vítimas sequer se conheciam. Isso não existe em literatura alguma, nem mesmo na psiquiatria. Ninguém alucina assim. Não posso ter uma alucinação assim, igual à sua, eu estando aqui e você lá em Mato Grosso Sul, por exemplo. Isso é impossível!
Qual foi sua opinião sobre esses fatos, naquela época, e como você lidou com sua conclusão de que não poderiam ser alucinações? Na verdade, eu não tinha uma opinião concreta sobre os casos, mas pensava que poderiam ser algum tipo de alucinação visual combinada com autoflagelação. Realmente, não sabia o que eram os ataques e tinha muitas dúvidas. Demorei bastante para perceber que não poderiam ser delírios, até por causa do meu ceticismo e eu ser uma médica recém formada. Se isso acontecesse agora, jamais teria demorado tanto tempo para compreender os fatos e não perderia a oportunidade de colher dados importantes, que hoje enriqueceriam muito a pesquisa dos ufólogos. Minha imaturidade e, talvez, falta de humildade profissional, por ser nova na profissão, atrapalharam muita coisa.

E você decidiu permanecer na Ilha de Colares mesmo sabendo que a situação piorava a cada dia e você poderia ser atacada? Sim, decidi. Mas não foi fácil. Como todo mundo ia embora, eu também pensei em deixar a região, mas o prefeito Bastos e o padre Alfredo de Lá Ó me convenceram a ficar. As pessoas ficaram em pânico e não sabiam o que realmente estava acontecendo, nem nós, da unidade de saúde. Quando percebi, estava trabalhando apenas com três secretárias, pois a odontóloga, a enfermeira e muitos dos técnicos tinham ido embora. Ficamos sozinhas. Foi quando eu juntei minhas coisas para deixar a ilha e disse ao prefeito que ia embora. Ele foi correndo buscar o padre, um texano e filho de uma libanesa com espanhol [Que havia sido xerife no Texas e também era ufólogo e médico otorrinolaringologista], e ambos me fizeram ver que eu precisava ficar. O prefeito disse que todos podiam fugir, mas que ele, o padre e eu teríamos que ter o profissionalismo e permanecer. Tentei até retrucar e lembro que respondi a ele: “Mas até o delegado foi embora!” O senhor Bastos então disse: “Mas o delegado não trata de pessoas e nem tem o seu estudo”. Aquilo foi como uma bofetada na minha cara. Eu saí de dentro do meu fusca verde, com toda a minha bagagem, e disse: “Vou ficar!” E fiquei até a coisa piorar muito.
Você tinha plena consciência do risco que estava correndo ao permanecer… Sim, sabia de todos os riscos. Mas o prefeito fez um trato comigo: ele colocaria pessoas vigiando minha casa durante a noite, para eu poder dormir e ter condições, no dia seguinte, de dar assistência às vítimas. Ele distribuía, tanto na sede do município, quanto na zona rural – que era constituída de oito localidades –, pistolas, latas, pedaços de pau, fogos de artifício e garrafas térmicas com café bem forte, para que a população não dormisse e soltasse fogos a cada 10 minutos. Os moradores que ficavam teriam que bater latas à noite inteira para afugentar as luzes.
O mais impressionante é que as vítimas tinham sua saúde arruinada
E o método do prefeito funcionava? Funcionou por algum tempo, mas os ataques continuavam. Descer os objetos não desciam, mas continuavam a vitimar as pessoas do alto. Depois, nem soltar fogos, nem café forte, nem nada impedia os ataques, que voltaram ao normal e com força total. Os acontecimentos tiveram início em julho de 1977 e os cerca de 40 casos a que me referi foram registrados principalmente à noite e na madrugada, especialmente na zona rural. Foi a partir do mês de outubro daquele ano que as ocorrências começaram a ser também no final da tarde e início da noite. E já não atingiam apenas a zona rural, mas chegavam até a sede do município. No mês seguinte, os casos aconteciam durante toda à tarde, principalmente a partir das 16h00. Nesta fase do fenômeno chupa-chupa, eu passei a achar que “eles”, o que quer que fossem os pilotos daquelas máquinas, estavam tomados de muito desespero, a ponto de fazerem de tudo para chegarem às vítimas. Não sei por que, não acredito que eles estivessem ali com intuito de maldade pura e simples. Eles precisavam de alguma coisa que aquela gente tinha…
Quando você diz “eles”, a quem exatamente você está se referindo? “Eles” quer dizer os seres extraterrestres, que se acredita estarem por trás dos ataques. Hoje eu me refiro a eles assim. Na minha opinião, naquela época havia uma esquadrilha de naves perdida na Amazônia e precisando desesperadamente de combustível ou alguma outra coisa para voltar ao seu local de origem. Quem somos nós, simples mortais, para saber qual combustível eles usavam? O nosso vem do álcool e do petróleo, mas e o deles, será que não vinha dos seres humanos? Penso que estavam retirando a energia vital das pessoas e transformando-a em algo. Comecei a perceber isso a partir dos primeiros 40 casos que atendi. Tentei elucidar minhas dúvidas e dar uma resposta à população, porque todos me cobravam muito uma posição.
Por você ser uma das pessoas mais instruídas de toda a ilha, certamente… Sim, por isso. As pessoas me perguntavam o que era aquilo e eu comecei a parar de pensar como médica e passei a raciocinar como ser humano. Queria saber por que as vítimas enfraqueciam tanto e tão rapidamente após os ataques. Apresentavam diarréia, gritavam e tinham dores articulares que duravam meses. Muitas ficavam apáticas, temerosas, depressivas e irritavas. Pouco falavam, mas eu, ao visitá-las em suas casas, perguntava sempre se sentiam melhor. Muitas vezes respondiam de forma monossilábica. “Mais ou menos. Nunca mais gozei saúde, doutora. Não sei o que eu tenho”, diziam uns. “É como se uma coisa tivesse me chupado”, afirmavam outros.
Era visível o estado de saúde precária das vítimas mesmo meses depois dos ataques? Elas nunca melhoravam? Sim, visível. Parecia que alguém ou algo havia extraído a energia vital delas, que por isso geralmente ficavam doentes. Foi quando comecei a buscar nos arquivos da Unidade Sanitária de Colares dados sobre os exames de sangue e de urina pregressos das pessoas que haviam sido atacadas, pois muitas delas regularmente faziam check-up no posto, já que viviam numa região onde a incidência de doenças era grande. Por sorte, havia um grande arquivo de vários anos antes de minha atuação lá, contendo dados dos pacientes.
O que você tinha em mente? Minha idéia era comparar essas informações com as atuais e verificar o que havia mudado. Descobri uma coisa incrível: 100% daqueles que tinham feito exames laboratoriais antes dos ataques foram acometidos por uma súbita anemia, na qual o número de hemácias em seu sangue havia reduzido para quase 50%. Também descobri que a coloração das células sangüíneas dos pacientes havia mudado.
Esse era um padrão constante nas pessoas que foram atacadas? Sim. Por exemplo, um paciente que tinha feito um exame no mês de março de 1977, que acusou 4.600 milhões de hemácias e uma taxa de 12,5 g/dL de hemoglobina, apresentou após o ataque apenas 3 milhões de hemácias e 9 g/dL de hemoglobina. Muita gente chegou a ter variações ainda mais marcantes, de perder até 50% das hemácias. Ora, era impossível isso acontecer em tantas pessoas ao mesmo tempo, e só naquela região. Das 80 pessoas que atendi ao todo, cerca de 80% apresentavam anemia grave [Os valores normais para a concentração de hemoglobina sangüínea definidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é de 13 g/dL para homens, 12 g /dL para mulheres e 11 g /dL para gestantes e crianças entre seis meses e seis anos. Abaixo desses dados, o indivíduo é considerado anêmico].
As queimaduras necrosavam em poucas horas, algo impossível
E quanto aos ataques em si, como eles aconteciam, segundo a descrição das inúmeras vítimas que você atendeu? Ouvi muitos relatos, quase todos idênticos. Primeiro, não era um raio de luz que vinha do céu, mas sim de um objeto que descia perto da copa das árvores e ficava camuflado entre elas. Ele brilhava, fazia um barulho muito alto e todos eram cilíndricos – nenhuma vítima me descreveu artefatos como discóides. Por isso, eu não entendo o nome dado à expedição militar feita na região, Operação Prato, que presume que os objetos tinham este formato de disco. O escritor Daniel Rebisso, autor de Vampiros Extraterrestres na Amazônia [Edição particular, 1991], os descreveu como sendo metálicos e prateados, com diversas luzes na parte superior e inferior. Eles ficavam parados em cima das árvores e quando se deslocavam não o faziam de maneira retilínea. Esse fato até eu presenciei: eles se movimentavam de forma elíptica.
Os casos eram muito semelhantes entre si? Sim, eles não tinham discordâncias, todos eram iguais. Veja bem: eles não eram parecidos, mas sim iguais. Quando uma pessoa me procurava na unidade de saúde com uma grande queimadura no hemitórax, tanto no lado direito ou esquerdo, eu já procurava os orifícios no pescoço, pois sabia que iria encontrá-los. Referia-me a eles como semelhantes às marcas feitas por presas de vampiros.
Algum caso dos que chegaram ao seu conhecimento fugiu do padrão já descrito de ataques e consecutiva queimadura? O único caso que fugiu um pouco do padrão de queimadura no tórax e perfurações no pescoço deu-se com uma paciente que ficou tomando conta da casa para cuidar de seus filhos no terreiro. Ao ser atacada, levantou as mãos para se proteger, sofreu as queimaduras ali, nas mãos. No mais, as pessoas tinham todas os mesmos sintomas após os ataques. Não tinham febre, mas apresentavam uma queda em sua resistência imunológica, pois ficavam muito doentes, sem apetite ou disposição para fazer suas tarefas rotineiras. Percebi até que começaram a ter o raciocínio mais lento. Usando uma palavra popular da Amazônia, ficaram “lesos”.
Vamos voltar um pouco em nossa conversa. Eu gostaria de saber como é que as pessoas atacadas chegavam à unidade sanitária? Elas nunca chegavam sós, estavam sempre amparadas ou carregadas por parentes, amigos, compadres, comadres ou vizinhos, porque não conseguiam andar. Essas pessoas, em geral, testemunharam o que havia acontecido às vítimas, mas saíam ilesas. Coisa curiosa é que, quando os ataques ocorriam, os atacados nunca estavam sozinhos… Às vezes eram casais namorando ou pessoas que ainda insistiam em ir a festas. Depois, com a repetição dos casos, acabaram todas as festividades e tudo parou. E olhe que isso é coisa difícil aqui no Pará, onde o povo é mesmo muito festeiro e animado…

Você tem informações de casos em que mais de uma pessoa foi atingida simultaneamente? Isso com freqüência acontecia. Com um casal de namorados, por exemplo, os dois geralmente eram atacados juntos. Num grupo grande, muitos eram picados. Os que se safavam voltavam depois para ajudar os colegas. Mais para frente, as pessoas pararam de sair e nem mesmo os pescadores se atreviam a continuar suas atividades, pois vários deles foram atacados em pleno mar – nem durante o dia havia pesca após outubro de 1977. Ninguém mais ousava sair de casa, pois com o decorrer do tempo as luzes começaram a ficar mais audaciosas, fazendo vítimas em plena luz do dia e nas ruas da Vila de Colares.
Você atendeu apenas umas 80 pessoas atacadas. Mas quantas vítimas ao todo você estima que o chupa-chupa fez? Creio que o número de pessoas atacadas foi muito grande, mas muitas não tinham acesso fácil à sede do município, vivendo na zona rural de Colares, e nunca procuraram ajuda médica. Por isso, não entram em estatísticas. Naquela época, eram necessárias várias horas de barco para atravessar o Túnel da Laura, região que separa o litoral da ilha. Muitas pessoas vinham carregadas em redes, outras tinham até medo de trazê-las e serem atacadas no caminho. Eu também tinha receio de ir vê-las em suas residências, e recebia constantemente a notícia de que mais e mais moradores estavam sendo atacados pela luz. Até mesmo os funcionários da unidade não queriam levar medicamentos às regiões mais afastadas, com medo.
Havia padrão no sexo ou idade das vítimas? Bem, eram atacados mais homens do que mulheres, mais adultos jovens do que pessoas idosas. Poucos casos de crianças foram registrados, e nenhum com menores de 10 anos. Não atendi ninguém tão jovem ou idoso com idade avançada. Era como se houvesse um respeito por tais faixas etárias. A paciente mais idosa que atendi, e que inclusive foi a óbito, tinha 72 anos. Ela foi atacada dentro de sua cozinha, que não tinha janela, protegida do Sol ou chuva apenas por uma cortina de plástico. Isso aconteceu entre 17h00 e 18h00.
Vamos tratar desse caso logo adiante. Agora, por favor, descreva se havia algum padrão físico entre as vítimas? É interessante destacar que todas as vítimas eram magras e nenhuma tinha sobrepeso ou era obeso. Além disso, todos eram pardos ou caboclos. Não atendi nenhuma pessoa branca ou loira, mesmo porque existia apenas uma meia dúzia delas na ilha toda, isso contando ainda com a técnica de laboratório da Unidade Sanitária de Colares e eu. A grande maioria das vítimas era composta por agricultores, pescadores e donas de casa, casados e que não usavam álcool. Sei disso porque fiz questão de perguntar a todos as circunstâncias de suas vidas, já que no início dos casos eu achava que eram alucinações e poderiam ser provocadas por bebida alcoólica. Estava enganada…
Eu tentei abandonar a ilha, mas fui convencida a ficar pelo prefeito
Houve alguma incidência de ataques dentro das mesmas famílias, ou seja, integrantes do mesmo grupo familiar eram atacados? Não. Aconteceram vários casos em que primeiro era atacado o marido e, depois de quatro a seis semanas, a esposa ou os filhos. Mas não simultânea ou imediatamente. Eu até achava que alguns fatos poderiam ser brigas de casal, mas não consegui provar um único caso. Enfim, eu usava todos os argumentos a mão para justificar minha incredulidade. Aplicava todas as teorias possíveis, menos que fosse “coisa de outro mundo” ou extraordinária.
Era possível identificar quando o chupa-chupa estava perto da cidade, através de sons? Todos sabíamos quando eles estavam a caminho, pois faziam um zumbido parecido com o de besouros. Quando as pessoas escutavam esse som, iam logo procurar um local para se esconder. Ainda bem que os objetos não eram silenciosos, pois se fossem teriam atacado muito mais pessoas. Esses artefatos, sempre de formato cilíndrico, chegaram a um extremo de audácia ao passar a emitir seus raios de luz através das frestas das casas de madeira e palha da ilha, que geralmente não tinham forramento. As luzes de fato penetravam pelas frestas com extrema habilidade e pontaria. Para se proteger, as pessoas cobriam esses espaços com papéis, jornais ou revistas, tampavam até mesmo o buraco da fechadura, o que resolveu um pouco a situação.